
Dias atrás, olhando uma lista geral dos livros mais vendidos no Brasil, encontrei uma enxurrada de livros de autoajuda (quinze de um total de vinte, alguns deles classificados na categoria “negócios”) e dois com a foto de certo youtuber na capa. E me perguntei: o que faz desses livros (e de outros tantos) um sucesso de vendas?
Reconheço que algumas dessas publicações são tratadas como pura mercadoria. Ao lançá-las, as editoras estão pensando mais no lucro que alcançarão com sua venda que no aspecto estético das obras (vide as capas que mostram celebridades ou os próprios autores e dificilmente atrairiam compradores se esse fosse o principal critério de escolha). Isso porque as editoras já perceberam que as pessoas em geral querem saber sobre a vida daqueles que seguem na televisão ou na internet e que há uma busca generalizada por dicas fáceis de como resolver os problemas e melhorar a vida (como ser líder, ter sucesso, ficar milionário, fazer amigos — há ensinamento para tudo).
Então me deparei com meu próprio preconceito. Não tenho dúvidas de que o bom resultado de venda desses livros se deve em especial a uma forte campanha. Basta entrarmos numa livraria (física ou online) para vermos esses títulos em destaque. Assim, a probabilidade de alguém comprá-los é maior do que a de encontrar um livro escondido na última estante. Há também, ao meu ver, o fator moda: se existe uma grande procura por aqueles livros, é muito provável que outros leitores se sintam estimulados a levá-los para casa também. No entanto, como posso dizer, sem ler, que eles não têm algum valor? Ou, mesmo que os leia, como posso dizer que são ruins?
A definição de qualidade dos livros (e aqui não falo de livros didáticos, teóricos ou acadêmicos) é subjetiva, como o é também a interpretação que fazemos de seus significados. O julgamento é feito pelo leitor a partir de suas vivências pessoais, de suas experiências de leitura, de sua visão de mundo, de suas preferências.
Pode ser que não gostemos de um livro simplesmente porque seu tema não nos interessa ou porque sua forma de escrita ou seu conteúdo estão aquém ou além da nossa capacidade de compreensão naquele momento. Por outro lado, gostamos de um livro porque algo nele toca, até de forma inconsciente, em uma parte de nós, em uma de nossas lembranças. É o que Proença Filho (2007) nos diz, com outras palavras:
O texto repercute em nós na medida em que revele marcas profundas de psiquismo, coincidentes com as que em nós se abriguem como seres sociais. O artista da palavra, co-partícipe da nossa humanidade, incorpora elementos dessa dimensão que nos são culturalmente comuns. Nosso entendimento do que nele se comunica passa a ser proporcional ao nosso repertório cultural, enquanto receptores e usuários de um saber comum (p. 7-8).
Do mesmo modo, uma editora decide publicar ou não um livro com base na opinião de alguém (um editor, que também é um leitor), mas é o leitor final quem vai dizer se aquele material é bom ou não (pelo menos para ele próprio).
Portanto, a avaliação da qualidade de uma obra literária não pode ser vista como uma verdade indiscutível, pois todo mundo sabe que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro e vice-versa. Pode ser que, mesmo sendo induzidos a adquirir aqueles livros, seus leitores vejam neles algo que ecoe em seu íntimo, que se relacione com sua vida.
Penso que isso se torna ainda mais complexo em se tratando de literatura infantil e juvenil (neste último caso, um pouco menos), pois somos nós, adultos, que decidimos o que escrever, o que publicar, o que comprar e o que ler para nossos filhos ou alunos. Fazemos isso com o apoio de nossa bagagem de vida e de leitura, como eu disse antes, algo que não podemos transmitir para as crianças e os jovens, como aponta Hunt (2010, p. 79 e 80):
É claro que os leitores adultos nunca podem compartilhar as mesmas referências que as crianças, em termos de experiência de leitura e vida. […] normalmente, quando o adulto lê textos infantis, quase sempre o estará fazendo em nome de uma criança, para recomendar ou censurar por alguma razão pessoal ou profissional.
Dito isso, como podemos então saber o que tocará as crianças e os jovens? Na verdade, podemos apenas imaginar.
O problema maior, nessa situação, é que comumente as escolhas dos livros para as crianças ou os jovens são feitas desconsiderando-se as possibilidades de compreensão dessas crianças e desses jovens e julgando-se que determinados temas ou linguagem não lhes interessam ou não são apropriados para sua idade.
Por sorte, as crianças geralmente não demonstram o nosso preconceito, não descartam um livro só porque alguém o desqualificou nem são apegados a célebres escritores. Por isso, não é incomum apresentarmos aos pequenos leitores um texto que consideramos sensacional e não percebermos o mesmo efeito neles; ou, por outro lado, não darmos qualquer crédito a uma história que acaba por conquistar a preferência deles.
Testemunhei isso várias vezes em minha experiência como professora: em algumas ocasiões, eu me entusiasmava mais com certos livros do que meus alunos; em outras, lhes apresentava histórias sem tanta empolgação e os via apaixonados por elas.
Cheguei a apenas uma conclusão com tudo isso que escrevi: em tempos em que lutamos contra a discriminação (de qualquer tipo), não posso aceitar nem reverberar o preconceito em relação aos gostos de leitura, que é também uma forma de rebaixar um grupo (aqueles que não leem os livros considerados de qualidade) em comparação com outro (aqueles que os leem). Quem não lê ou quem não lê aquilo que se diz de “bom gosto” é rotulado como alguém preguiçoso, ignorante, sem cultura.
Antes de qualquer coisa, cabe aqui a pergunta: afinal, quem definiu o que é de qualidade? Hunt (2010, p. 35) nos responde que essa definição tem muito mais a ver com poder do que com qualquer outro fator, como se vê no trecho a seguir:
[…] o status de um texto, o que lhe confere qualidade, não é mais visto como algo intrínseco, mas simplesmente — ou complexamente — como uma questão de poder do grupo. […]
São a classe dominante, a academia, os críticos literários, aqueles que têm poder, que dizem que um livro e não outro ou que um autor e não outro apresentam características que podem alçá-los a referência, a clássico. E ler (ou fingir ler) a lista de livros e autores que daí provém, por vezes inacessível à maioria das pessoas, é sinônimo de intelectualidade, de superioridade cultural.
Então outros questionamentos são necessários: é razoável nos prendermos a essa indicação de livros “bons”, como se ela fosse sagrada, como se nada fora desses padrões tivesse relevância? É admissível diferenciarmos os leitores (ou não leitores) mesmo em um país — é até clichê dizer — em que a educação e a cultura nunca foram valorizadas e fomentadas; em que há milhões de desempregados; em que livros não são artigos baratos; em que grande parte da população vive com um valor mensal insuficiente para todas as despesas familiares? Não parece justo, mas é muito cômodo para nós que temos acesso à leitura fazermos esse julgamento.
Ler um livro é um privilégio. Para além da insuficiência de recursos financeiros, que impede a aquisição de livros, o hábito de leitura pode ser uma tarefa difícil para quem não teve a oportunidade de desenvolvê-lo desde a infância, para quem tem falhas em sua formação, para quem precisa repartir seu tempo entre muitas atividades diárias, para quem necessita lidar com outros tantas problemas mais urgentes.
Se quisermos ser realmente democráticos (como muitos de nós juramos ser), podemos começar entendendo que cada um de nós tem sua individualidade e suas dificuldades. Também devemos parar de julgar o que o outro lê (ou se esse outro não lê de jeito algum) e lutar por políticas que incentivem o gosto pela leitura e permitam o acesso de todos a livros (a livros diversificados).
Referências:
HUNT, Peter. Crítica, teoria e literatura infantil. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
PROENÇA FILHO, Domício. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 2007.





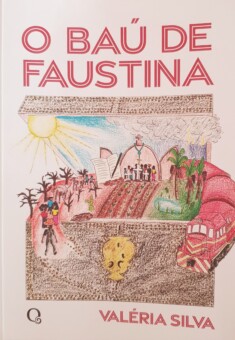

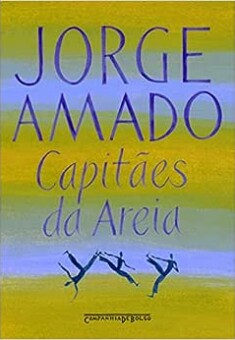




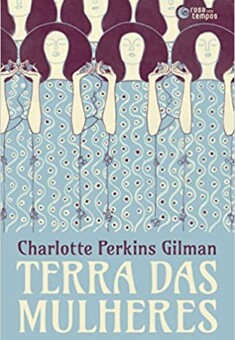



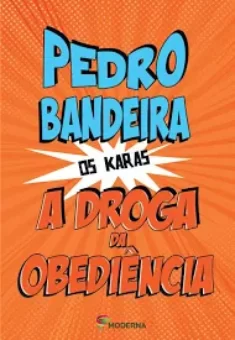
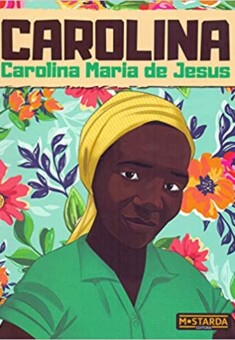

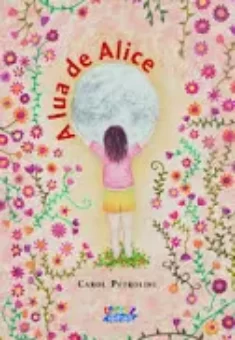



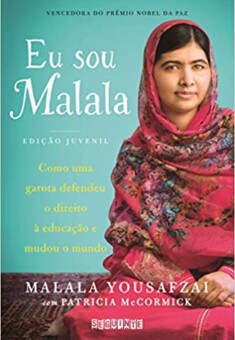


Deixe seu comentário